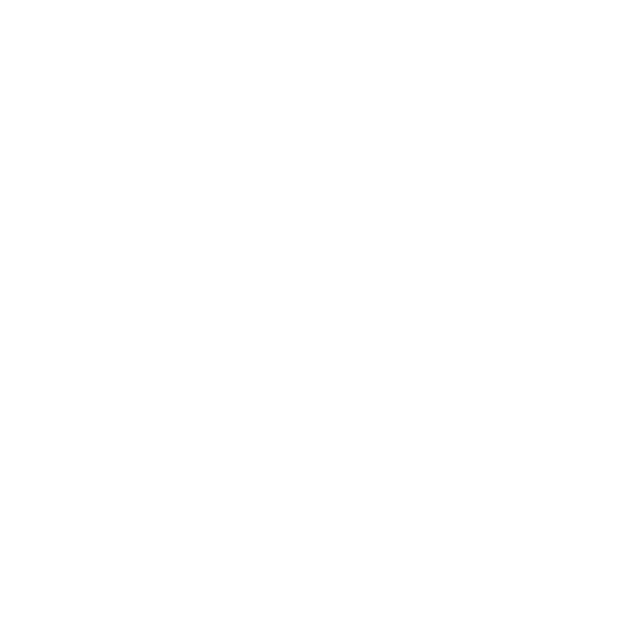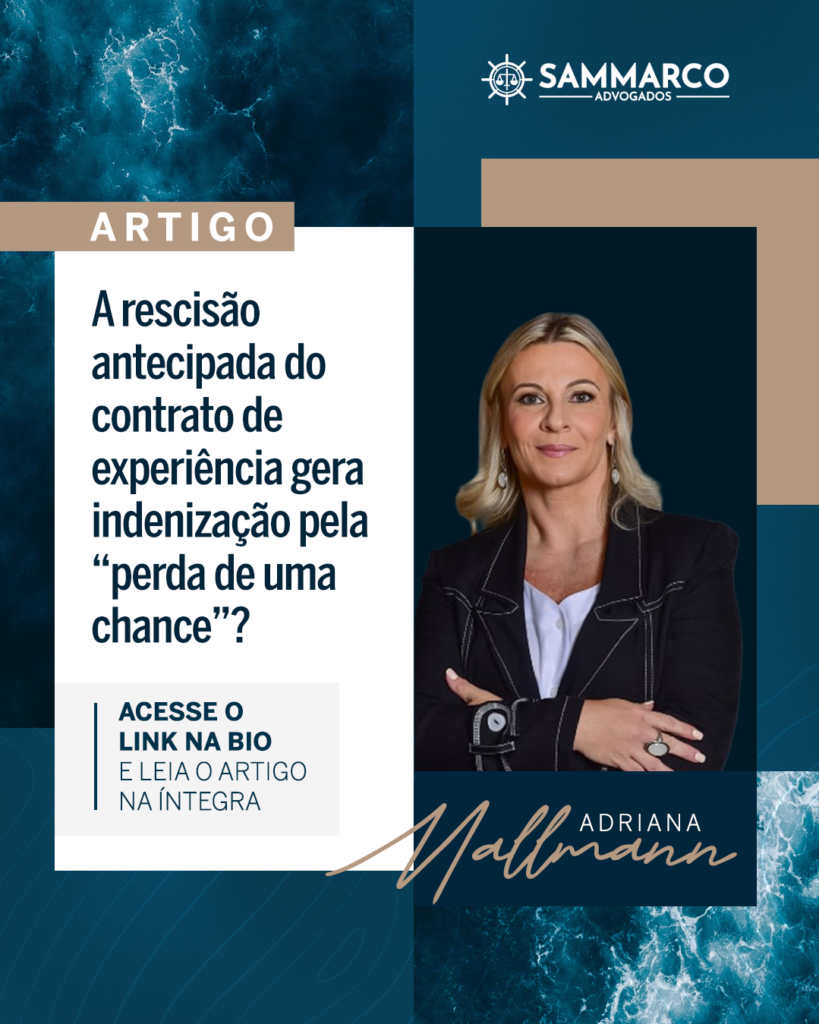A justiça do Trabalho nasceu comprometida com a dignidade de quem trabalha. Não por acaso, muitas de suas decisões se erguem sob o manto da proteção. O problema aparece quando, ao “proteger”, o sistema repete pressupostos paternalistas e, sem perceber,reforça o machismo estrutural que diz combater. Dois exemplos recentes ilustram esse descompasso e seus efeitos regressivos sobre a empregabilidade feminina.
1) O pedido de demissão da gestante e a tutela da “incapaz”
À luz de tese vinculante n. 55 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), firmada em precedente qualificado, afirma-se que o pedido de demissão da empregada gestante somente é válido se assistidopelo sindicato ou autoridade competente, com fundamento no art. 500 da CLT. Na prática, a trabalhadora – mesmo adulta, capaz, e ainda que nem soubesse da gestação – é tratada como sujeito inimputável,cuja declaração de vontade só seria higiênica se “chancelada”.
O próprio debate crítico registra a contradição: se o direito fosse irrenunciável, a assistência não o tornaria renunciável; e a exigência de homologação, extirpada do sistema pela Reforma Trabalhista, não pode ressuscitar apenas para mulheres grávidas –que, detalhe, sequer soubessem que estavam grávidas por ocasião do pedido de demissão. A leitura constitucional da estabilidade (ADCT, art. 10, II, b) tutela o emprego, não a heteronomia da gestante. Ao deslocar a autonomia feminina para o sindicato,cria-se tutela que infantiliza e estigmatiza – e, de quebra, sinaliza ao mercado que contratar mulheres é risco jurídico acrescido.
Para que o empregador fique seguro, a solução hoje seria homologar perante o sindicato TODOS os pedidos de demissão de mulheres em idade fértil.
2) Licença-maternidade para a companheira não gestante e o paradoxal reforço de papéis tradicionais
Em acórdão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região, concedeu-se “licença-maternidade gestante” à companheira não gestante de relação homoafetiva, evocando um “protocolo de gênero” e a cláusula de “não redução de direitos das mulheres”, a partir de leitura ampliativa de precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) – Tema 1072. O objetivo – garantir presença parental com o recém-nascido – é louvável.O efeito sistêmico, porém, é preocupante: cristaliza-se a ideia de que só o benefício rotulado “maternidade” é suficientemente longo, enquanto a via “paternidade” permanece estreita (cinco
dias na CLT, vinte dias no Empresa Cidadã).
Se o beneficiário fosse homem, dificilmente teria igual êxito: a regra geral seguiria sendo a licença curtíssima. O recado ao tecido social e ao empregador é perverso: “cuidar” segue como dever das mulheres; “prover”, como papel masculino. O resultado? Mais barreiras de entrada e permanência para mulheres – inclusive para casais heteroafetivos em que se deseja compartilhar cuidados de forma igualitária.
O tiro pela culatra
Ambos os movimentos, cada qual a seu modo, aumentam o “custo regulatório” de contratar mulheres e reforçam estereótipos que as empurram para fora do mercado de trabalho.
A jurisprudência, quando descola da análise de incentivos e de efeitos reais, pode transformar proteção em desproteção.
É o que também se apontou ao criticar a conversão automática da garantia de emprego em indenização, mesmo diante de oferta de reintegração: além de distorcer o comando constitucional (garantia de emprego), alimenta a percepção empresarial de que, com mulheres, o risco é sempre maior e indenizável – um estímulo errado na direção errada.
Antigamente, a mulher que fosse dispensada e não aceitasse a reintegração (sem que houvesse motivo relevante) ou ajuizasse ação após o fim do período estabilitário, perderia o direito à indenização. De uns anos para cá, a jurisprudência mudou totalmente, deferindo a indenização em qualquer caso.
Caminho de saída: neutralidade de gênero e simetria parental
A resposta não é restringir direitos, mas desenhá-los de forma neutra em gênero. Países que caminharam para licenças parentais simétricas e compartilháveis – como a Noruega – trocaram rótulos (“maternidade/paternidade”) por “licença parental”, com períodos exclusivos de cada genitor e parcelas flexíveis, justamente para incentivar o cuidado equânime. Quando o tempo de cuidado é equivalente para todos os cuidadores, o estigma cai: contrata-se pessoas, não “riscos”. É também uma mensagem pedagógica às próximas gerações: cuidar não é papel feminino, é função parental.
Ajustes necessários
(i) No tema do pedido de demissão, prestigiar a autonomia da mulher e o controle judicial caso a caso (vontade viciada? coação?); não reativar, seletivamente, mecanismos de tutelaque a própria ordem jurídica superou.
(ii) Na licença para famílias homoafetivas, afirmar simetria por via legislativa e jurisprudencial clara: licenças parentais iguais e compartilháveis, sem criar “atalhos” que só funcionam quando o beneficiário é mulher, perpetuando a desigualdade que se pretende combater. E, pasmem, há um projeto de lei, em tramitação já adiantada, que elastece a licença paternidade para APENAS 20 dias e apenas após quatro anos de sancionamento da lei. (iii) Em estabilidade gestante, priorizar reintegração (garantia de emprego) e coibir a conversão automática em indenização, evitando incentivos adversos e reforço do viés estatístico contra mulheres.
A igualdade material exige abandonar paternalismos bem-intencionados. Decisões que, sob o pretexto de proteger, retiram agência da mulher ou reafirmam que “cuidar” é tarefa feminina são tiros na culatra. O norte é simples – e exigente: neutralidade de gênero, desenho institucional que distribua encargos de
cuidado e fidelidade ao texto constitucional que garante emprego, autonomia e igualdade.
Enquanto não caminharmos nessa direção, a Justiça do Trabalho continuará correndo o risco de, sem querer, pavimentar a estrada da desigualdade que jurou superar.
Bruna Esteves Sá e os profissionais do Sammarco Advogados
escrevem quinzenalmente para o BE News, com seus artigos
publicados sempre às terças-feiras.